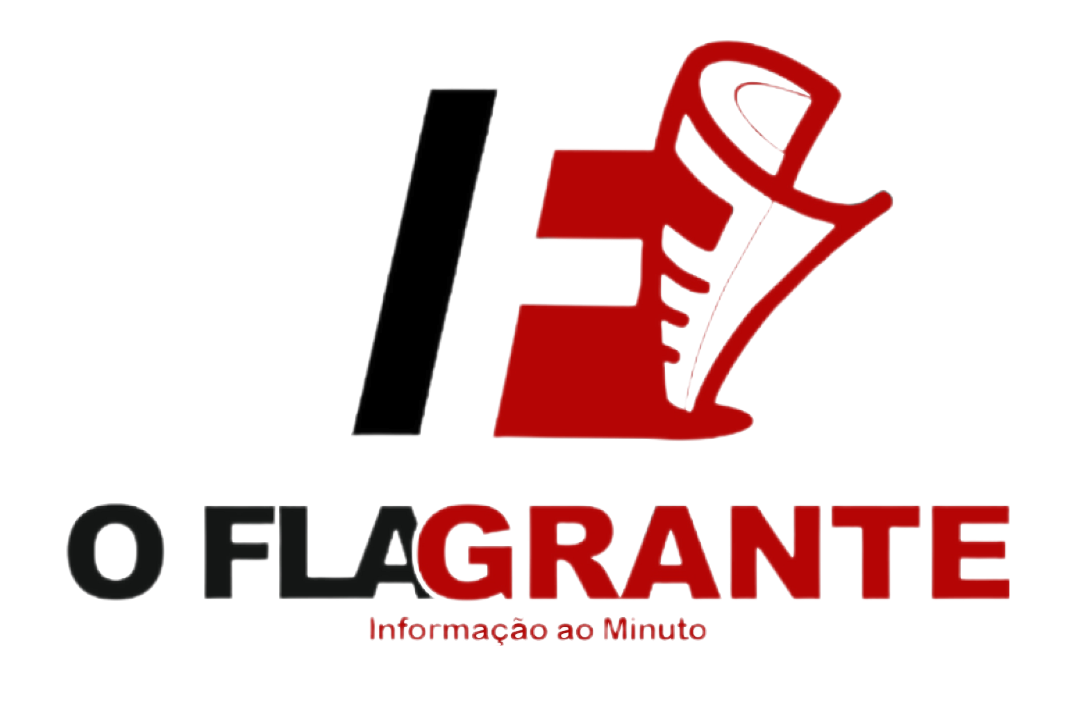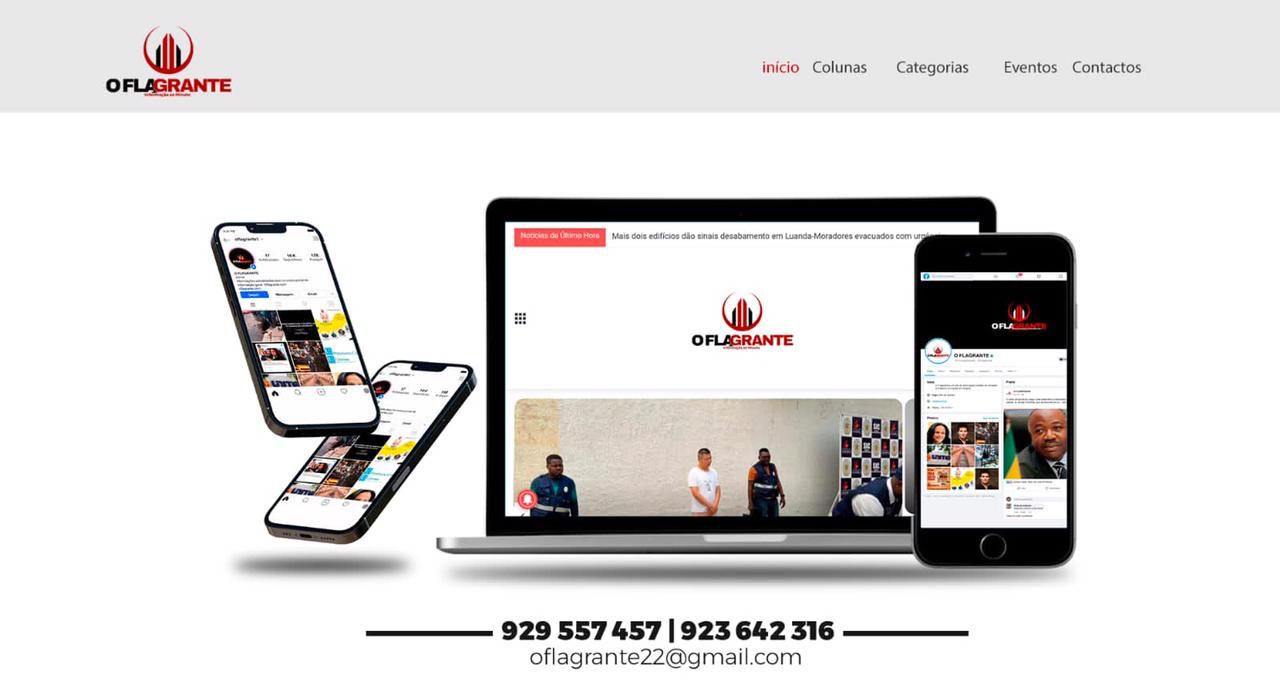Por cima do Governo provincial, há um bruaá em Benguela. E Benguela, essa cidade de luz oblíqua e vocação marítima, tem o raro talento de parecer sempre maior do que a sua própria pressa. A baía alisa o olhar; as casas guardam uma dignidade antiga; e até o rumor do trânsito, quando existe, parece pedir licença.
Foi ali, nessa Benguela de dicção quase poética, que um gesto pequeno ganhou o tamanho de um escândalo. O governador Manuel Nunes Júnior saiu para tomar o pequeno-almoço num restaurante; e, como se a cidade fosse uma sala privada, fechou-se uma rua inteira, com bloqueios e zelo, com a solenidade artificial de um cortejo. Um café, uma torrada, e o espaço público dobrado como um guardanapo.
Luís Castro, líder do Partido Liberal, insurgiu-se. E, mais eloquente do que a indignação do político, foi a reação que vi crescer nos comentários: jovens de Benguela, formados, atentos, sem paciência para este tipo de liturgia rude. Não era a fome a falar; era a vergonha. Era a sensação, muito moderna e muito urbana, de que há uma fronteira invisível entre autoridade e humilhação, e que essa fronteira tinha sido pisada com botas.
Porque o poder, quando se habitua à facilidade, gosta de se tornar visível. Não basta decidir; precisa de ser visto a decidir. Quer ocupar a rua, interromper a vida, fazer do quotidiano um palco onde a sua presença se traduza em silêncio alheio. E, quando não se mostra, teme não existir.
Conheci Manuel Nunes Júnior em Londres, numa sala da Chatham House, onde a civilidade é quase uma forma de protocolo moral. Era um ambiente de mapas e gráficos, de citações e prudência; Adam Smith e Keynes surgiam como referências naturais, não como ornamentos; e tudo respirava uma ideia simples: o pensamento não precisa de sirenes. Naquele cenário, seria difícil imaginar a mesma figura a consentir, por causa de um pequeno-almoço, o fecho de uma rua, como se a cidade devesse parar para não perturbar a sua digestão.
E é aqui que entra uma suspeita que a experiência confirma. Muitas vezes, o excesso não nasce do chefe; nasce dos que o rodeiam. Nasce do zelo dos escalões inferiores, dos guardiões locais do prestígio, desses que confundem lealdade com teatro e respeito com intimidação. Fazem mais do que lhes pediram; depois oferecem o resultado ao chefe, já embrulhado, já pronto, já com o cheiro doce do medo.
Este mecanismo não é novo. Tem a idade dos regimes que se alimentam de rituais. Tem a lógica dos romances que desmontam a vaidade ministerial: o funcionário que transforma a arbitrariedade em estilo; o dirigente que faz do abuso um adorno; a pequena corte que acredita que o poder se prova pela capacidade de parar a vida dos outros.
E isto, para mim, não é apenas teoria.
Tem memória. Tem estrada.
Lembro-me, com uma nitidez quase física, de um episódio de outros anos, no Bailundo, quando a vila parecia suspensa, à espera da visita de Mário Pinto de Andrade, então Secretário do Bureau Político do MPLA. Eu estava no meu campo, a plantar abacateiros, e faltava-me uma extensão para a irrigação; peguei no carro e desci à vila com a pressa prática de quem só quer comprar uma peça e regressar ao trabalho.
Ao chegar, encontrei um cenário de teatro fechado. A estrada que sai da padaria e segue ao lado do caminho para a loja do Tabarato, até à rotunda central, estava bloqueada. Não era um bloqueio discreto, desses que desviam e pedem desculpa; era um bloqueio de afirmação, como se toda a zona comercial do Bailundo pudesse ser colocada em pausa por causa de um nome.
Se alguém quisesse, faria as contas do prejuízo: lojas com portas inúteis, clientes impedidos, tempo perdido, negócio adiado, trabalho interrompido. E, no fim, a tal palavra que os relatórios adoram, produtividade, cairia como uma sentença. Mas a conta verdadeira era outra, mais antiga e mais impune: a conta do poder, que se alimenta de interrupções, como se a vida comum fosse um detalhe.
O mais estranho, para mim, era a dissonância entre o homem e o ritual. Conheci o Mário Pinto de Andrade em Portugal, no início dos anos 90. Vi-o em contexto intelectual; ouvi-lhe a dicção; senti-lhe a compostura de quem sabe estar numa sala sem precisar de transformar a sala em propriedade. E é por isso que, quando recordo o Bailundo bloqueado, me custa atribuir-lhe a autoria moral daquele gesto. O gesto cheirava, antes, ao zelo dos dirigentes locais, aos pequenos sacerdotes da obediência, aqueles que procuram impressionar o chefe com demonstrações de força barata, talvez à espera de promoção, talvez apenas desejosos de provar ao povo que controlam a rua.
Mesmo então, as pessoas não ficaram satisfeitas. Houve resmungos, olhares duros, aquela irritação contida que não precisa de megafone para existir. E pensei, com uma ironia triste, que poucas coisas recrutam mais gente para a oposição do que isto: fechar a vida comum para fabricar grandeza. É uma pedagogia do excesso; ensina, sem discurso, que o poder se tornou um hábito de humilhar.
Por isso, quando Benguela fecha uma rua para um pequeno-almoço, e quando o Bailundo fecha o comércio para uma visita, o que aparece não é apenas um erro de logística. É um retrato. É a mesma tentação, repetida com variações: transformar o espaço público num corredor privado, converter o cidadão num figurante, e chamar a isso ordem.
Numa aldeia, onde a autoridade ainda se mede pela proximidade e pela voz, talvez se tolere como folclore. Numa cidade com escolas, médicos, professores, juventude ligada ao mundo e um orgulho urbano que não aceita ser tratado como rebanho, o gesto soa a metal no vidro.